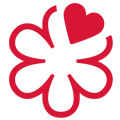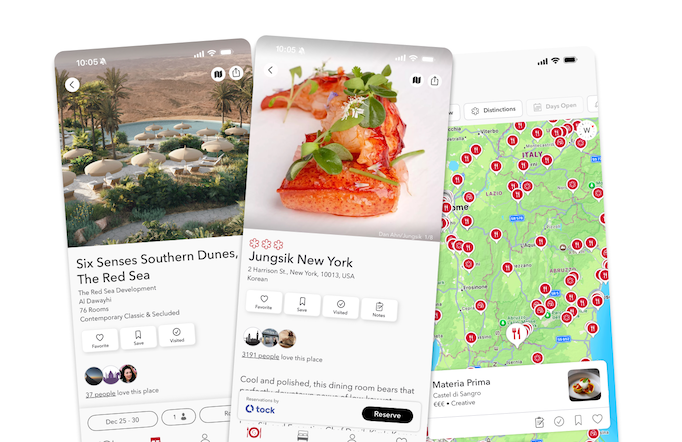Na Antiguidade, a arte grega expressava luz e beleza; enquanto a romana, o poder e a religião. No entanto, a partir do século 15, esse paradigma começa a mudar. Com a descoberta do mundo redondo - e de que, além do oceano, está a América -, com a reforma de Lutero e com o pensamento cartesiano (o clássico “penso, logo existo”, de Descartes), os fundamentos da sociedade, e os artistas passam a se interessar pela cultura figurativa e por representar a realidade em suas obras.
Os sentimentos convulsivos da época ganham forma no Maneirismo. Depois, nas telas visionárias do pintor Hieronymus Bosch, que, no tríptico “O Jardim das Delícias Terrenas”, retratou o paraíso, demônios e tentações do subconsciente por meio de alegorias, referências a “O Inferno de Dante”, corpos em contorção (tanto humanos quanto celestiais) e a fruta da imortalidade: a romã. No Museu do Prado, em Madri, na Espanha, está exposta a gravura “Adão e Eva”, de Albrecht Dürer, evocando a história do homem e sua atração endêmica pelo proibido - no caso, a maçã.
Em meados do século 16, Giuseppe Arcimboldo pinta “O Jardineiro Vegetal”. Na obra, a cabeça formada por legumes e verduras não é um manifesto de abundância, mas sim da nossa confusão e mal-estar. A comida torna-se uma metáfora existencial ainda nesse mesmo período - especialmente em quadros como “Os Comedores de Ricota”, de Vicenzo Campi, “A Boda Camponesa”, de Pieter Bruegel, e “O Comedor de Feijões”, de Annibale Carracci. O alimento passa a ser o elemento central das obras, retratado como um hábito popular.
No começo de 1600, Caravaggio e os flamengos holandeses (especialmente os artistas que exploravam alimentos, como Pieter Claesz e Jean Davidsz de Heem, celebrando as glórias do império ao pintar os produtos exóticos importados pela Companhia das Índias) desafiaram os cânones pictóricos com cestos luxuosos de natureza morta, nos quais frutas, gravetos e folhas deixaram de ser coadjuvantes (no Renascimento, a natureza sempre esteve presente, mas subordinada ao homem) e passaram a ser a única protagonista da obra.
Avançamos à Revolução Francesa, quando, depois de infinitos retratos de reis e paisagens, a cena artística passa a representar a burguesia e, portanto, a comida como valor social. Na segunda metade dos anos 1800, o Impressionismo ofereceu perspectivas inéditas sobre a vida comum: incluindo os excessos de Vaudeville, as cores dos campos na primavera e as maçãs de Paul Cézanne e Édouard Manet.
Nessa época, vem a sombria e tenebrosa natureza morta de Oscar Kokoschka, expoente do movimento sesionista ao lado de Gustav Klimt. Com inesquecível impacto e melancolia, Van Gogh cria um retrato da vida cotidiana com “Os Comedores de Batata”. E, falando em obras-primas, é impossível não mencionar “A Última Ceia”, de Leonardo da Vinci.
Ao longo dos anos, “A Última Ceia” também foi pintada - e somente para citar as obras mais celebradas da história da arte - por Tintoretto, Veronese, Rubens, Salvador Dalí e Frida Kahlo. Nesses últimos dois exemplos, as obras representam tradições culturais e aspectos psíquicos dos artistas - que são, de certa forma, traduções das teorias de Freud, Nietzsche, Einstein. Não à toa, na primeira metade do século 20, a psicologia, a metafísica e o espaço se tornam os principais protagonistas da arte.
Mas a comida retorna: desta vez, no mundo mágico e surrealista de René Magritte (especialmente em “O Filho do Homem) e até na pop art de Andy Warhol, quando a sopa Campbell se tornou o símbolo do consumismo da classe média americana.